Dizem que é só o corpo.
Que é carne, osso, hormônio, desgaste.
Mas o meu sempre soube que era mais: um rádio antigo, chiando todas as frequências ao mesmo tempo.
Ser um corpo sensível, neste século cansado, é acordar todos os dias em cima de um fio desencapado.
O mundo liga o botão da luz, das notícias, das tragédias, dos feeds intermináveis, e a gente toma choque antes mesmo do café.
Eu sinto antes de entender.
Sinto antes de ter palavras.
Às vezes, sinto até por quem ainda nem percebeu o próprio desespero.
Aprendi cedo que nem todo mundo enxerga o que eu vejo.
Tem gente que atravessa a rua com uma pressa tão polida que nem nota o homem sentado na calçada juntando restos de si mesmo num copo plástico.
Eu, não.
Eu sempre ouço o barulho do coração quebrando, mesmo quando o corpo inteiro finge que está tudo bem.
Ser um corpo sensível é ser uma casa com muitas janelas abertas.
Entra vento, entra poeira, entra música, entra grito.
Entra até aquilo que ninguém mandou.
E ainda assim, quando o mundo pergunta quem você é, esperam que você responda com um rótulo: profissão, signo, CPF, feed organizado, currículo arrumado.
Ninguém pergunta
“como está a sua pele hoje?”
“o que o peso das coisas fez com a sua coluna?”
“quanta fé cabe na sua respiração dessa manhã?”
Eu cresci ouvindo que eu exagerava.
Chorava “demais”, amava “demais”, pensava “demais”.
Demais para quem?
Demais para um tempo que premia o controle, o cálculo, a indiferença educada.
O corpo sensível é um escândalo silencioso.
Não grita no meio da rua, mas treme inteiro por dentro quando alguém levanta a voz
Não sai quebrando tudo, mas passa a noite acordado reorganizando diálogos, tentando salvar cenas que já acabaram.
É um corpo que conhece o sabor dos não-ditos.
Que percebe quando a mesa do jantar pesa sem ninguém bater garfo no prato.
Que sente o clima da cidade mudar, mesmo com o céu azul, porque sabe que tem algo ruindo em algum lugar.
Tem dias em que eu queria ser mais grossa.
Ter pele de concreto, riso que não treme, uma certa frieza elegante que fica bonita no espelho.
Mas toda vez que tento vestir dureza, ela me aperta.
A verdade é que meu corpo foi programado para se comover.
Inventei, então, um manual de sobrevivência para não desabar toda semana.
Primeira regra: aceitar que sentir é linguagem.
Quando o peito aperta, o olho arde e a nuca pesa, não é frescura: é frase.
O corpo está escrevendo cartas que a boca ainda não sabe ler.
Tem medo que só se expressa como cansaço, tem luto que só consegue aparecer como dor de cabeça recorrente, tem desejo que se disfarça de procrastinação.
Segunda regra: não romantizar a exaustão.
Esse século tem uma estética particular: gosta de gente produtiva, acelerada, que se orgulha das olheiras.
Transformaram o burnout em troféu.
Mas o corpo sensível não aguenta esse desfile.
Aprendi a dizer não como quem reza.
Não ao convite que me rouba energia, não à conversa que me violenta por dentro, não aos lugares em que minha intuição já chegou antes da minha presença e avisou: “aqui você vai se perder de si”.
Terceira regra: cultivar pequenos templos.
Templo não é só igreja, é qualquer lugar onde a alma consegue respirar com calma.
Pode ser uma xícara de café tomada devagar, o chão frio da cozinha encostando no pé, o banho quente depois de um dia que doeu demais.
Templo é o banco de trás do ônibus em que você olha pela janela e, por alguns minutos, não precisa ser nada para ninguém.
Eu arrumei altares discretos dentro da rotina:
um caderno que ninguém lê, algumas músicas que só toco quando o mundo está barulhento demais, uma oração sem palavras que faço com o corpo inteiro deitado no chão, braços abertos, como quem devolve a própria história para um colo invisível.
Quarta regra: lembrar que o corpo não é culpa.
Muitos de nós aprendemos a ter vergonha de sentir.
Quando a lágrima vem, pedimos desculpa.
Quando o abraço demora, nos justificamos.
Quando precisamos de silêncio, nos chamamos de antissociais.
Mas o corpo sensível não é erro de fabricação: é o lugar onde o mundo ainda não foi totalmente endurecido.
Enquanto houver alguém que se comove, nem tudo está perdido.
Ser um corpo sensível, na América Latina, é carregar ainda outros pesos: a história de quem veio antes, a precariedade normalizada, as violências que atravessam gerações, o riso que resiste mesmo assim.
Tem dias em que eu sinto que não aguento mais nenhuma notícia, nenhuma estatística, nenhuma mensagem dramática no grupo da família.
O coração parece um tambor antigo, tocado com força demais.
Nessas horas, eu lembro que meu corpo também é lugar de milagre pequeno.
Quando eu rio com alguém, por dois minutos, a dor do mundo fica suspensa no ar como roupa no varal.
Quando eu escuto de verdade uma história, a pessoa do outro lado se vê menos sozinha.
Quando eu abraço com o corpo inteiro, algo dentro da outra pessoa se reorganiza.
Talvez seja disso que se trata sobreviver: não de apagar o sofrimento, mas de reduzir, um pouco, a solidão de quem sente.
Quinta regra do manual: não desistir de ser permeável.
O risco de quem sente demais é decidir, um dia, não sentir mais nada.
Levantar muros, fechar janelas, trancar portas, anunciar para si mesmo que, a partir de agora, só voltará a acreditar mediante provas concretas, assinadas em cartório.
Acontece que um corpo blindado pode até sofrer menos, mas também recebe menos milagre. Menos coincidência bonita. Menos intuição acertando o caminho. Menos encontros que mudam a rota.
Eu escolhi continuar aberta, mesmo sabendo que isso significa, às vezes, sangrar.
Prefiro esse tipo de dor à anestesia elegante que alguns chamam de maturidade.
Talvez eu nunca seja a pessoa mais controlada da sala.
Talvez eu sempre precise sair para respirar no meio das festas.
Talvez eu continue chorando em filmes que ninguém considera triste.
Mas, silenciosamente, o mundo precisa de gente assim: dos que ainda se importam, dos que ainda escutam, dos que ainda se arrepiam com uma frase, uma canção, um gesto simples.
Se o século decidiu ser de ferro, minha resistência é continuar sendo carne.
Última regra — que, na verdade, é promessa: um corpo sensível nunca está sozinho.
Mesmo quando acha que é o único que enxerga, que sente, que percebe, que se afoga; em alguma outra casa, em alguma outra cidade, tem alguém deitado no sofá, olhando para o teto, tentando colocar em palavras exatamente o mesmo nó.
Nós somos muitos.
Espalhados, distraídos, atravessados — mas muitos.
Talvez um dia a gente se encontre numa página de revista, num banco de praça, num vagão de metrô, numa mesa de bar, num texto qualquer que alguém compartilha dizendo “lembrei de você”.
Até lá, eu sigo aqui, afinando meu rádio antigo, tentando aprender a amar esse corpo que sente demais.
Não como defeito, mas como forma de estar no mundo. Como uma espécie de oração sem liturgia, onde cada arrepio é um amém.
–b. Monma ✨
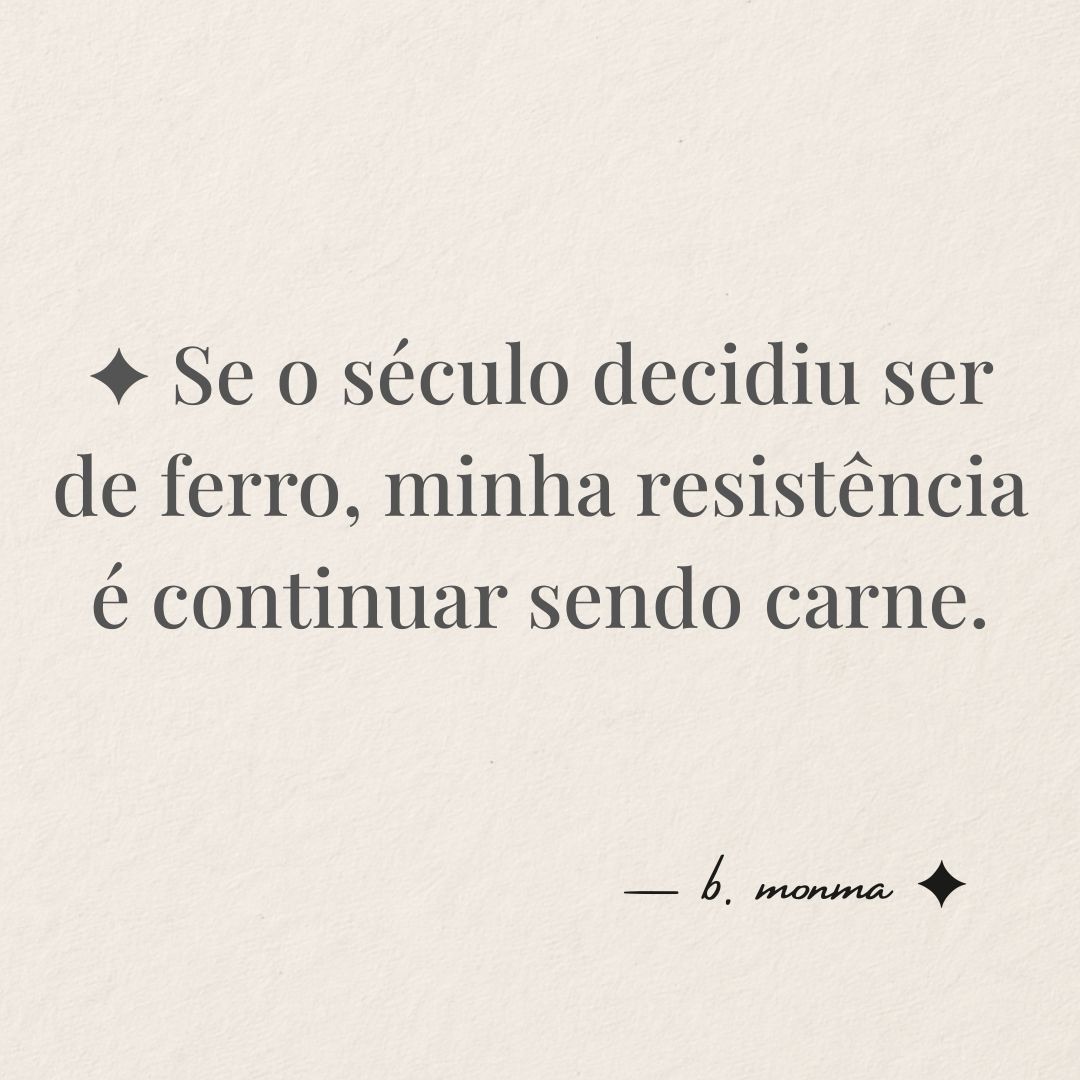
Um longo lindo texto.
CurtirCurtido por 1 pessoa
Obrigada 💖
CurtirCurtir